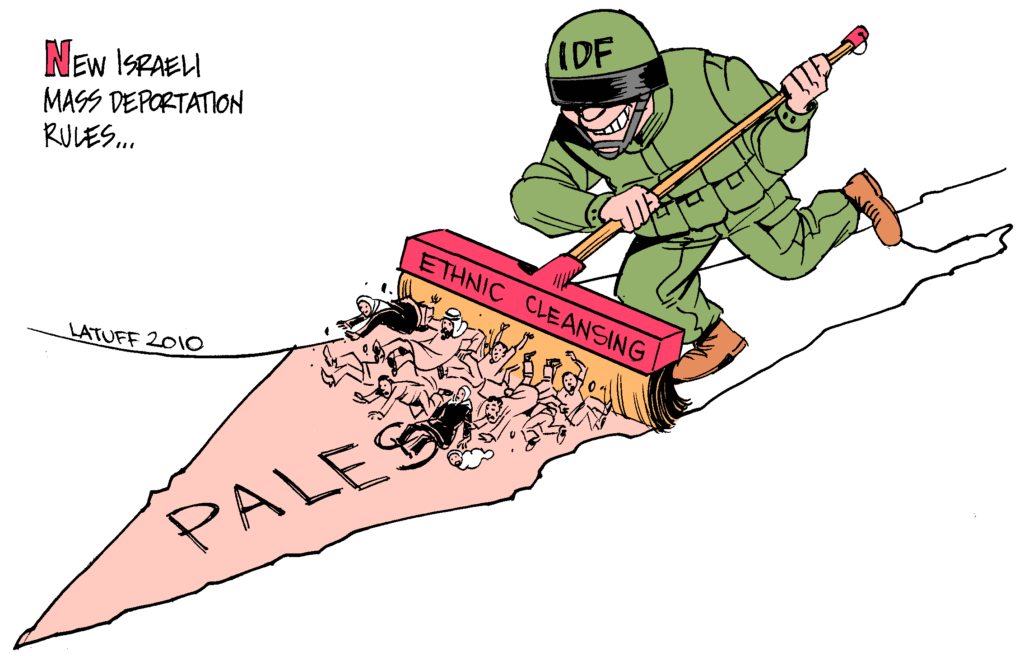Seguindo os passos do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ), ele ignorou o chamado da sociedade civil palestina por boicotes, desinvestimento e sanções (BDS) a Israel e aceitou convite em janeiro último para dar palestra na Universidade Hebraica de Jerusalém, na Palestina ocupada – instituição cúmplice do apartheid israelense.
Coerente com o ato criminoso de fazer coro à “normalização” da limpeza étnica e colonização, Duvivier torna-se mais um garoto-propaganda contra a principal campanha de solidariedade internacional ao povo palestino. Conseguiu a proeza de escrever um artigo irretocável do ponto de vista da ignorância (ou má-fé) histórica e política, pleno de distorções quanto ao BDS e os palestinos. Entre as falsificações gigantescas, ele escreve que boicote é coisa de fundamentalistas e que não encontrou apoio entre os palestinos. Duas de tantas outras mentiras que fariam Pinóquio corar.
A própria imagem usada para ilustrar o texto é vergonhosa: uma representação no melhor estilo orientalista, de uma mulher totalmente coberta, somente com os olhos à mostra. Como se esse fosse o retrato de todas as palestinas e árabes, uniforme, imutável – e, tão grave quanto essa homogeneização a serviço de desumanizar o “outro”, vincula a mulher muçulmana, por sua vestimenta, a uma noção falsa de atraso, barbárie e violência.
O humorista sem-graça e seu artigo ignoram, por exemplo, que a jovem palestina Hadeel al-Hashlomon, de apenas 17 anos, vestida com esses trajes, estava tentando exercer o direito de estudar quando foi assassinada a sangue frio por israelenses em um posto de controle em Al Khalil (Hebron), na Cisjordânia, Palestina ocupada. Quem é o terrorista? É a pergunta que não quer calar. Aquele que resiste legitimamente contra uma ocupação desumana – inclusive ao persistir em tentar exercer o simples direito de ir e vir – ou o Estado que mata, expulsa e humilha todo um povo há quase 70 anos?
A resposta deveria ser óbvia a qualquer um da “esquerda”, mas infelizmente histórias como a dessa jovem estão apagadas dos discursos inflamados dos novos porta-vozes de Israel contra o BDS. Assim como omitem o fato de que a própria Universidade Hebraica tem seu campus construído em área ocupada, cujos habitantes nativos foram expulsos e engrossam o amplo leque de palestinos refugiados e deslocados internamente – são 5 milhões no mundo árabe e milhares na diáspora, impedidos de retornar às suas terras. Também cegam para o que ocorre em frente ao campus em Jerusalém, em aldeias palestinas, cujas demolições de casas e expulsões por parte de Israel são triste rotina e seguem a todo vapor.
Duvivier, Jean Wyllys e parte da “esquerda” brasileira aderem, assim, à tática israelense de somar repressão e falsa informação – dois de seus velhos conhecidos grandes investimentos para manter a ocupação e o apartheid. Esses são os piores. Confundem desavisados, sob a retórica do “diálogo”, a favor da “democracia” e dos “direitos humanos” – termos que até o ex-presidente dos Estados Unidos George Bush usou, para invadir Iraque e Afeganistão. Fortalecem, assim, o projeto político sionista, fundado na limpeza étnica do povo palestino. Relegam à porta dos fundos da história a Nakba (catástrofe palestina que significou a criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948) e suas consequências até os dias atuais.
A criminalização do BDS por parte de Israel é a outra ponta dessa ofensiva. Em agosto de 2016, um comitê interministerial foi formado com a tarefa de identificar e deportar ativistas da campanha de boicotes. Em 6 de março último, a proposta de banimento foi aprovada no Knesset (Parlamento israelense). Não à toa: a campanha avança em todo o mundo. Números indicam que a queda de investimentos estrangeiros em Israel foi de 46% somente entre 2013 e 2014.
Quem é a “esquerda” sionista
Em 14 de janeiro de 2016, em resposta às distorções provocadas pela viagem do parlamentar do PSOL, escrevi um artigo neste mesmo espaço intitulado “Contra a solidariedade que precisamos, Jean Wyllys e a esquerda sionista”. Reproduzo aqui parte do que escrevi há mais de um ano.
A primeira desconstrução que precisa ser feita é quanto à ideia de um diálogo possível, em contraposição à campanha de BDS, que ignora a realidade no terreno e a história. É preciso entender de que interlocutor possível e esquerda Jean Wyllys e Duvivier falam. “Na gíria israelense local e no discurso político utilizado pelos meios de comunicação e pela comunidade acadêmica, o ‘campo da paz’ em Israel é a ‘esquerda’. Noutras partes do mundo, tal significaria necessariamente uma plataforma social-democrática ou socialista, ou pelo menos uma preocupação acentuada com os grupos social e economicamente desfavorecidos numa dada sociedade. O campo da paz em Israel tem se concentrado inteiramente nas manobras diplomáticas desde a guerra de 1973, um jogo que tem pouca relevância para um número crescente de grupos”, ensina o historiador israelense Ilan Pappe em “História da Palestina moderna”.
Em resenha sobre a publicação “Falsos profetas da paz”, de Tikva Honig-Parnass, o Ijan (Rede Internacional de Judeus Antissionistas) demonstra que historicamente a “esquerda” sionista esteve tão alinhada com o projeto de colonização da Palestina quanto a direita. “Como esse livro mostra, desde antes da fundação do Estado de Israel, a esquerda sionista falou demasiadas vezes a língua do universalismo, enquanto ajudava a criar e manter sistemas jurídicos, governos e o aparato militar que permitiram a colonização de terras palestinas.”
A raiz dessa esquerda está no chamado “sionismo trabalhista”, constituído ao início da colonização, em fins do século XIX e início do XX. Seus membros reivindicavam a aspiração de princípios socialistas e cultivaram, como informa o texto do Ijan, deliberadamente essa falsa ideia. Os diários dos trabalhistas à época demonstram seu intuito não declarado: assegurar a “transferência” dos habitantes nativos (árabes não judeus em sua maioria) para fora de suas terras e a imigração de judeus vindos da Europa para colonizar a Palestina – um eufemismo para limpeza étnica. “Em um de seus momentos mais francos, David Ben-Gurion, principal liderança desse grupo e chefe do movimento operário sionista (que se tornaria primeiro-ministro de Israel em 1948), confessou em 1922 que ‘a única grande preocupação que domina nosso pensamento e atividade é a conquista da terra, através da imigração em massa (aliá). Todo o resto é apenas uma fraseologia’.” O artigo cita ainda outra observação de Honig-Parnass: “No 20º Congresso Sionista, em 1937, Ben Gurion defendeu a limpeza étnica da Palestina (…) para abrir caminho à criação de um estado judeu.”
Independentemente de se autodenominar de “esquerda”, de “centro” ou de “direita”, o sionismo visava a conquista da terra e do trabalho, que seria exclusivo a judeus. Para tanto, a central sindical israelense Histadrut – ainda existente e alicerce do estado colonial, proprietária de empresas que exploram palestinos – teve papel central, e seu fortalecimento é defendido por sionistas de “esquerda”. Em outras palavras, a diferença entre os trabalhistas e os revisionistas (como Netanyahu) é que os últimos eram – e continuam a ser – mais francos.
O único partido hoje que se autodenomina sionista de esquerda é o Meretz, criado nos anos 1990. Como ensina Ilan Pappe em “A história moderna da Palestina”, o novo grupo de “pombas pragmáticas” surgiu da fusão do “movimento de direitos civis de Shulamit Aloni, um partido liberal da linha dura chamado Shinui (‘mudança’) e o partido socialista Mapam”. O autor acrescenta: “Pragmatismo nesse caso significava uma veneração tipicamente israelita de segurança e dissuasão, não um juízo de valor sobre a paz como conceito preferido, nem simpatia pelo problema do outro lado no conflito, nem reconhecimento do seu próprio papel na criação do problema.”
A “esquerda” sionista apoiou a invasão de Israel ao Líbano em 2006 e ofensivas subsequentes em Gaza, à exceção da operação terrestre em 2014. Sua alegação é que não abrem mão do direito de “defesa” de Israel. É o que conta Honig-Parnass em artigo publicado no The Palestine Chronicle. Durante o massacre em Gaza há 1,5 ano, informa a autora, o Meretz recusou-se a participar de manifestação conjunta com árabes-palestinos contra a ofensiva e pelo fim do cerco a Gaza, porque questionava esse “direito”. Em seu artigo, Honig-Parnass cita declaração de uma liderança do Meretz, Haim Orom, a respeito: “Nossa posição é essencialmente diferente do denominador comum daqueles grupos que organizaram a manifestação: Meretz apoia a operação em Gaza. Esses grupos não aceitam o direito básico de autodefesa do Estado de Israel, o que nos apoiamos. A massiva maioria do partido votou pela operação e por uma resolução em oposição ao ato terrestre.”
Arvorando-se a favor da paz, a “esquerda” sionista tenta apagar ou justificar a Nakba. Racionaliza a afirmação da natureza democrática de um estado judeu e defende a lógica de “separados, mas iguais”. Essa “solução”, de dois estados, tornou-se inviável diante da expansão contínua da colonização, cuja face mais agressiva são os assentamentos – os quais não só não cessaram durante os sucessivos governos trabalhistas (no poder inclusive em 1967, quando Israel ocupou o restante da Palestina), como foram impulsionados por eles. Parte da esquerda mundial defende essa solução, mas um número crescente tem percebido sua impossibilidade e reconhecido que é preciso lutar por um estado único, laico e democrático, com direitos iguais a todos que queiram viver em paz com os palestinos.
Hoje, pensar nessa proposta seria semelhante a legitimar o regime institucionalizado de apartheid, com um estado dividido em bantustões, sem qualquer autonomia, em menos de 20% do território histórico da Palestina. Se essa “solução” hoje está enterrada, como reconhecem especialistas no tema, desde sempre é injusta, por não contemplar a totalidade do povo palestino, mas somente os que residem na Cisjordânia e Gaza – a maioria não vive ali, mas fora de suas terras, e há ainda 1,5 milhão no que é hoje Israel, considerados cidadãos de segunda classe.
Defendidas e impulsionadas pela “esquerda” sionista, as inúmeras negociações fracassaram não à toa: em nenhuma, a pretensão era pôr fim à colonização de terras e assegurar justiça aos palestinos. Os acordos de Oslo firmados em 1993, mediante a rendição da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) a Israel, aprofundaram o apartheid e a ocupação. Segundo a jornalista Naomi Klein denuncia em seu livro “A doutrina do choque – a ascensão do capitalismo de desastre”, entre aquele ano e 2000, o número de colonos israelenses dobrou.
De encontro a isso, a campanha por BDS a Israel é tarefa urgente e precisa ser elevada ao topo da lista da solidariedade internacional pela Palestina. À frente de seu tempo, diferentemente de Jean Wyllys e Duvivier, o educador Paulo Freire recusou convite para participar de conferência em universidade israelense sobre “diálogo”, por entender que, diante da ocupação, parte dos interlocutores não seria ouvida. A propostas de “diálogo” que ousem a paz dos cemitérios, essa é lição a ser aprendida. Outro ensinamento que deveria fazer parte da cartilha de qualquer um que se arrogue de esquerda é que se posicionar contra a opressão e exploração apenas dentro de suas próprias fronteiras não é somente um equívoco imperdoável, mas hipocrisia. A lição de Marx é mais urgente do que nunca: nenhum trabalhador será livre enquanto houver um único no mundo sendo oprimido.